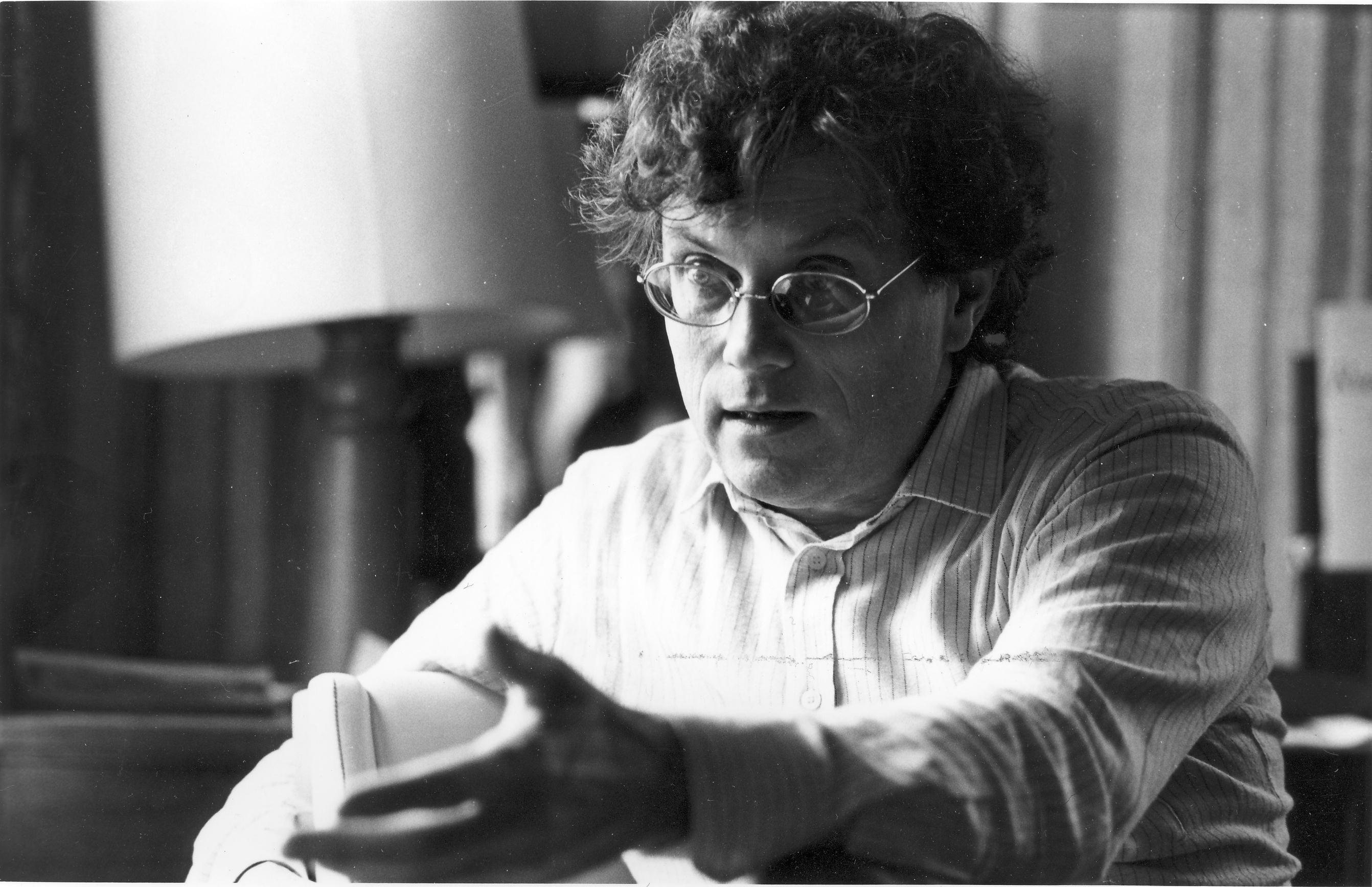
O presente ensaio é uma transcrição do capítulo seis de O Inconsciente Maquínico, livro solo de Felix Guattári, no qual expõe seus conceitos e formas de expressão de sua visão filósofica, cliníca, ética e expressiva do real social do inconsciente maquínico. Este capítulo é um excelente guia, uma cartografia, de abordagem de sua revolucionária(sua e de Deleuze, como escrita no Anti-Édipo) abordagem de análise do desejo humano. O link para o livro inteiro, em PDF, se encontra abaixo no final deste ensaio.
REFERÊNCIAS PARA UMA ESQUIZO-ANÁLISE
As micropolíticas existenciais molares e moleculares
O inconsciente é constituído de proposições maquínicas das quais as proposições semiológicas e lógico-científicas jamais podem apreender de forma exaustiva. Assim, os empréstimos feitos ao discurso das ciências com o intuito de definir o inconsciente constituem frequentemente facilidades que não saberiam premumir uma teoria contra o risco de reproduzir referências reducionistas. A forma, a estrutura, o significante, o sistema¹ não cessam de se revezar para tentar arbitrar a velha luta maniqueísta que opõe um puro sujeito a uma pura matéria amorfa, tornada, aliás, imaginária em relação à pesquisa científica contemporânea. Os conceitos devem render-se às realidades e não o inverso. Certas distinções que parecem pertinentes num dado contexto podem funcionar fora dele como conceitos que binarizam os arranjos, arborificandom os problemas. É talvez o caso, em particular, com a distinção que eu mesmo avancei entre os níveis molares e os níveis moleculares que corre o risco, apesar de todos os avisos, de derivar para uma oposição do tipo grande-pequeno, passivo-ativo...
Talvez seja conveniente precisar melhor que existe uma aparência molar passiva = a da imago e da identificação psicanalítica — e uma aparência molar ativa — a dos traços de aparência significantes. Existe também uma aparência molecular "mecânica". — a da etologia — e uma aparência molecular que transmuta as coordenadas da percepção e do desejo (como a que nos descreve Proust com as transformações e a desmultiplicação do rosto de Albertina, à medida que se aproxima da fisionomia do Narrador, quando da cena do primeiro beijo). Existem microrritornelos, por exemplo, de ordem prosódica, que são praticamente imperceptíveis ao ouvido, e células estilísticas, também elas moleculares, que "controlam" um bom número das obras em sua totalidade, até mesmo períodos inteiros da vida produtiva de um músico ou de um poeta. (Exemplo: a pequena frase de Vinteuil.) Existe uma virtuosidade molar que se destina a normalizar uma obra tanto nos seus detalhes técnicos quanto na sua concepção de conjunto. ...
Estas diversas "políticas do estilo" distanciam-se, aliás, umas das outras, entram em rivalidade, vigiam-se com o rabo dos olhos: com efeito, elas participam de um mesmo phylum musical ou poético.
As interações entre as estruturas molares e os maquinismos moleculares são constantes. Elas são "pilotadas", ou a partir de agenciamentos visíveis estratificadas ou a partir de "potências invisíveis" procedentes de matérias de expressão que não podem estar circunscritas em substâncias bem delimitadas do ponto de vista de coordenadas espaço-temporais e conceituais explicitáveis. Com efeito, todas as combinações intermediárias entre situações dominadas por séries estátisticas e agenciamentos auto-regulados são concebíveis e, no interior de um mesmo agenciamento, podem afrontar-se opções maquínicas antagonistas. Os agenciamentos concretos, pelo menos seus núcleos maquínicos, estão longe de ser unicamente a sede de interações exteriores que eles suportariam passivamente. Eles são devolvidos aquém de si mesmos na direção dos maquinismos abstratos e do plano de consistência, e para além deles mesmos em direção do phylum maquínico concreto que os cerca. Em outras palavras, eles não tiram sua consistência maquínica local, nem de um formalismo macrofísico, nem dos efeitos probabilísticos microfísicos que os fariam surgir, por milagre do acaso.
Os meios científicos só abordam, geralmente com muita precaução, até com repugnância, esta questão dos centros organizadores dos agenciamentos “autogestionários” da vida, do pensamento e do desejo. Assiste-se hoje mesmo a um retorno considerável das teorias mais reducionistas neste domínio. É o caso, em particular, das pesquisas sobre os sistemas que se desenvolvem no prolongamento dos trabalhos de Ludwig von Bertalanffy. A análise matemática dos sistemas apresenta-se certamente, como um interesse inegável, mas parece-me contestável, em compensação, a utilização desta análise no quadro das teorias que se revelam incapazes de preservar a riqueza concreta de seu objeto, em particular suas ligações aos agenciamentos micro sociais. O postulado de base da pesquisa sistêmica consiste em admitir que os componentes de um dado sistema devem ser necessariamente subsistemas da mesma categoria do conjunto ao qual ela pertence. A ordem hierárquica dos componentes procede, nessas condições, de um reforço de suas relações susceptíveis de serem definidas, “que se funda num princípio de complexidade crescente à medida que se passa da parte para o todo”.
Entretanto, uma grande quantidade de exemplos contra esse princípio poderia ilustrar o fato de que “o mais diferenciado” pode perfeitamente se refugiar num subconjunto sistêmico, ficar à parte, na reserva e só pegar “serviço” em certas circunstâncias (os sistemas cromossômicos são “bancos de possível” que só podem tornar-se produtivos em condições particulares de desencadeamento). Diremos de um tal subconjunto que, na realidade, ele não seria um conjunto o que, sendo o mais rico, do ponto de vista de suas relações passíveis de definição, seria ele desde o começo a chave que daria o verdadeiro conjunto do sistema de base? Mas a questão, sob um tal nível formal, perde todo interesse. O que conta aqui é preservar a multiplicidade e a heterogeneidade de todas as entradas possíveis, de todas as catástrofes, de todas as emergências de novos pontos de cristalização metabólica.
Só podemos oscilar indefinitivamente entre a Forma e o Acaso, enquanto não se aceita a idéia de que as populações moleculares, bem como as formas homeostáticas, os sujeitos assim como os objetos, os tempos, os espaços, as substâncias, e os enunciados sejam opostos por uma mesma matéria de opção maquinal, da qual uma face está voltada para o possível e a outra para a atualização de realidades mutantes. O que atribui-se a um agenciamento a possibilidade de ser totalizante-destotalizante — retomando a terminologia sartreana — pode provir de uma escolha molecular, de uma linha de fuga insignificante.
O núcleo de um indivíduo vivo, de um grupo, de um pensamento, de uma teoria, pode ser perfeitamente heterogêneo à estrutura que explica perfeitamente seu funcionamento. Não é nem a partir da totalização fenomenologica nem a partir da estrutura simbólica, nem a partir do conjunto sistêmico que se poderá apreender a real vida maquínica.
A economia das coisas moleculares, relativa aos fluxos e aos códigos, para não confundir e reduzir as asperezas materiais e semióticas numa mesma sequência indiferenciada, num mesmo trabalho cósmico sem proveito, deve estar em estado de poder explicar os processos específicos de catálise de agenciamento. Mas como conciliar nossos propostos no que diz respeito:
1- À interferência generalizada entre os componentes, pelo fato de eles constituírem um rizoma que se opõe ao conjunto dos extratos e dos agenciamentos?
2- À esta emergência de núcleos maquínicos cristalizando-se em torno de pontos de singularidade? (históricos, cósmicos, etc.). Não há uma contradição entre esta travessia generalizada dos componentes e a especificação dos agenciamentos? O papel partilhado com os componentes de passagem, tais como a aparência e os ritornelos, consiste, precisamente, em deixar juntos os termos desta contradição. É no centro da textura "material" e "possibilista" dos componentes que se negociam os quanta de desterritorialização que entrarão, seja nos processos "normais" de metabolismo de fluxo e de estrato, seja nos processos de mutação e de cristalização de novos agenciamentos. Encontramo-nos assim diante de dois estados de relação:
Em um, a economia do possível está enquistada em estratos e agenciamentos estabilizados; noutros, ao contrário, é seu metabolismo que predomina. A redefinição dos níveis de consistência molar-molecular, em termos de economia de escolha maquínica, nos leva a tentar cercar mais de perto esta instância dos núcleos maquínicos de vocação essencialmente criadora neguentrópica, etc. Quando os estratos e agenciamentos existem sem núcleos maquínicos, quando funcionam em torno de redundâncias ou de buracos negros estabilizados, eu diria que eles dependem de uma política existencial molar. Quando os agenciamentos ou os sistemas interagenciamentos têm negócio com os núcleos maquínicos — que não são necessariamente centrados sobre um agenciamento, eu falaria de política existencial molecular.
O molar é a repetição "visível" nos sistemas de coordenadas fixistas. O molecular é aquele que "faz a diferença" para o plano de consistência maquínica dos possíveis. Ele volta ao jogo micropolítico dos componentes de passagem constitutivos dos núcleos maquínicos, de optar por essa ou aquela linha evolutiva, de delimitar os processos de especificação e de estratificação, de fixar o destino dos pontos de singularidade, de liberar novos quanta de possível, de lançar novos agenciamentos e ordenar seu universo específico.
É neste nível, que me parece legítimo manter a articulação molar-molecular. Ela tem menos a fazer com um sistêmico intercomponente do que com o metabolismo próprio dos núcleos maquínicos. Estamos na presença de um fenômeno que se inicia e que diz respeito à consistência abstrata do possível. A desterritorialização maquínica além de uma certa intensidade, de uma certa aceleração, passado um certo começo de consistência, transpõe o quadro dos fluxos, dos códigos, das estratificações atualizadas. O que não significa que ela se anule. Ela se cristaliza num outro universo que atravessa todos os universos visíveis no tempo e no espaço. Uma matéria do possível subverte, escava do interior as antigas coordenadas e lança novas proposições maquínicas.
O essencial aqui é recusar todo corte absoluto entre a economia do possível e a economia material. As singularidades históricas e cósmicas só poderão ser preservadas nesta condição. A lei estratificada e o singular não param de interagir. O entrecruzamento entre os agenciamentos materiais, os agenciamentos de codificação biológica, os agenciamentos de enunciação semiótica, os agenciamentos maquínicos reais ou possíveis é tal que, fora de situações locais e a título precário, ele não permite mais fundar um sistema transcendente de lei que "cobriria" o conjunto das leis e das singularidades.
Nós reencontramos aqui um problema similar àquele que tínhamos encontrado quando se tratou de tornar a ligar as transformações e as gerações pragmáticas, por uma espécie de ponte molecular, sob a espécie de uma mesma “matéria de opção”. Esta relação geração/transformação, parece-me ser, no momento, um caso particular de relação molar/molecular. A diferença reside no fato de que nós não abordamos mais a política das escolhas maquínicas do ponto de vista dos agenciamentos de enunciação, marcada de uma forma ou de outra, por componentes humanos mas, por assim dizer, do ponto de vista das coisas em si mesmas. Meta-física, meta-semiótica, pouco importam o nome que se lhe dê, mas eu não vejo nenhuma razão para recusar a existência de uma subjetividade, ou de uma proto-subjetividade, aos agenciamentos vivos e materiais.
Esta economia molecular das escolhas não é assimilável a uma microfísica de entidades elementares passivas. Freud não tirou proveito de sua intuição genial com referência à existência de uma subjetividade inconsciente, procurando fundamentá-la sobre analogias termodinâmicas, de maneira a opor radicalmente uma esfera de ordem da diferenciação e uma esfera de matéria-prima energética indiferenciada. Para o inconsciente maquínico, a consciência e a inibição são apenas casos de figura. A inibição pode ser fonte de desordem, e o sonho fonte de ordem. E pode ser em grande escala, como já dissemos, que se jogam opções moleculares. Inversamente, as estratificações podem ser catalisadas em um nível microfísico. Por outro lado, um ponto central molar — por redundância e/ou efeito do buraco negro — pode instalar-se sobre um maquínico molecular o qual ele repele, mas que poderia refazer a superfície. Eu acrescentaria a isso que um agenciamento molecular rizomático pode ser portador de “placas molares” sem ser por isso condenado a cair numa política de estratificação generalizada.
As consistências molares e moleculares se instauram umas em relação às outras sem quebra de continuidade. Sua dissimetria fundamental não depende de seus objetos e de seus meios, mas de seus fins. A política molar é o grau zero da política molecular; ela conduz à fixidez ou ao buraco negro. Porém, será que não haveria um risco: a partir, deste modo, de uma proto-enunciação, de uma protopolítica no nível do vivo e do inanimado? Sob o pretexto de comunicar o observado e o observador — ao ponto de comprometer esta própria distinção — e de propor um modelo de inconsciente maquínico englobando os componentes mais diversos, não estou preconizando uma ocupação generalizada do campo científico pela “micropolítica” e o “subjetivo”. Antes de projetar o “espírito” sobre entidades visíveis, à maneira do idealismo tradicional, eu miniaturizá-lo-ia para tentar introduzí-lo até o coração dos átomos.
Acresce disso, responderei que a questão não é saber “se o espírito esclarece a matéria”, mas, ao contrário, de procurar apreender o funcionamento da subjetividade humana à luz dos maquinismos de escolha moleculares, tais como se pode vê-los a trabalhar em todas as ordens do cosmos. A subjetividade de que se trata aqui não está nem com uma palavra que habitava o mundo, ou com um formalismo transcendental, um simbólico, que o animaria para a eternidade. Nem arquetípico, nem estrutural, nem sistêmico, o inconsciente, tal como eu o concebo, procede de uma criação maquínica. É nisto mesmo que ele é radicalmente ateu.
Pode-se falar, a seu propósito, de liberdade? Pode ainda tratar-se de liberdade em universos que não conhecem sujeitos deliberantes? Que seria uma liberdade maquínica? Tudo aqui é uma questão de grau, de transposições insensíveis dos princípios. Existem modos de discursividade, de deliberação, de escolha, que não repousam sobre um discurso significante declamado entre locutores e ouvintes. Existem redundâncias maquínicas, codificações, sistemas de sinalização, semióticos que não são fundados sobre cadeias de fonemas, grafemas, matemas, etc. Além disso, o trabalho de codificações complexas pode receber vias bem diferentes daquelas da enunciação individualizada e consciente.
Não existiria um conhecimento genético? E mesmo uma consciência maquínica — por exemplo, no caso da sujeição do condutor ao seu veículo? Os capinzinhos, os ritornelos, as fisionomias para os pássaros, bem como para as paixões, para a inteligência humana, não seriam instrumentos de conhecimentos dos operadores pragmáticos, da mesma maneira que podem ser numa fábrica, as palavras faladas, as palavras escritas, os números, os grafos, os planos, as equações ou as memórias informáticas? A significação do mundo, o sentido do desejo, desde que se pretenda apanhá-los fora das redundâncias dominantes, exigem que se amplie a série de nossos recursos semióticos. Mil proposições maquínicas trabalham permanentemente cada indivíduo acima e abaixo de sua cabeça falante.
Se nós temos insistido sobre a aparência e o ritornelo nos componentes de passagem do desejo humano, é que eles são especializadores, de algum modo, numa tomada às avessas dos outros componentes, seja em curto-circuito de suas conexões rizômicas, seja tornando a centrá-los sobre os efeitos do buraco negro, pondo-os em seu ecos em relação aos outros. Mas nós vimos que esses componentes de base da comunicação, interindividuais, eram igualmente essenciais aos modos de subjetivação capitalista. E sobre eles que repousa uma certa percepção abstrata do tempo e do espaço e, por via de consequência, um certo tipo de relação com respeito ao corpo, ao trabalho, ao socius, etc.
E através deles que as intensidades do desejo (os valores do desejo) são despojadas de sua substância e que as asperezas do mundo são reduzidas, quadriculadas, em função das redundâncias e as normas dominantes (junção: valor de uso — valor de troca). Também é absurdo pretender reduzir a subjetividade inconsciente a um simples jogo de palavras e de símbolo no campo da linguagem.
Modos de subjetivação e de consciencialização de toda natureza humana e/ou não-humana, coletivos ou individuais, territorializados ou desterritorializados — coexistem no seio dos processos biológicos, econômicos, maquínicos. . . E, bem entendido, não se trata de cada vez, da mesma subjetividade, do mesmo super-sujeito, da mesma instância consciencial que, milagrosamente, veicularia mensagens, tomaria decisões, fixaria leis. Nem, aliás, de uma multidão de microssujeitos-padrão, localizados no cérebro, tal qual mensageiros minúsculos. Os componentes de subjetivação e de consciencialização resultam de modos de semiotização heterogêneos e nunca de uma pura e universal substância significante em confronto a uma pura e universal matéria do conteúdo. A produção em série e a exportação maciça do sujeito branco, consciente, macho, adulto, tem tido sempre como correlativo passos de multiplicidades intensivas que escapam por essência a toda situação de ponto central, a toda arborescência significante.
Livrar-se da ditadura do Cogito, como referência obrigatória dos agenciamentos de enunciação; aceitar que os agenciamentos materiais, biológicos, sociais, etc. sejam capazes de “maquinar” sua própria sorte e operar com linhas complexas heterogêneas: tais são as condições que devem permitir abordar, com um mínimo de segurança teórica, esta questão das matilhas moleculares que povoam o inconsciente. Uma infinidade de agenciamentos criadores, sem intervenção de um Criador supremo, uma infinidade de componentes, de índices, de linhas de desterritorialização, de maquinismos proposicionais abstratos: tais são os objetos de um novo tipo de análise do inconsciente.
As combinações mais complexas são susceptíveis de surgir a nível do que acreditamos ser “matérias-brutas”, as “matérias-primas”. A libido, por exemplo, não é de nenhum modo um fluxo indiferenciado, a-social e a-político. Ao contrário, os comportamentos mais sumários, menos diferenciados, podem nascer dos agenciamentos aparentemente mais elaborados, mais conscientes. A esquizo-análise deve estar pronta para tudo! Não se trata, de forma alguma, de pregar um livre arbítrio universal, mas de ampliar nossa compreensão dos constrangimentos objetivos. Temos visto que um fluxo de hormônios pode desencadear uma competência imprevista em matéria de ritornelo, como um fluxo de ADN pode transformar um processo de memorização ou alargar os ritmos circadianos: os cruzamentos, os casamentos, aparentemente os mais absurdos, os mais “contra-natureza”, são sempre de ordem do possível.
Nossas admirações, nesse campo, dependem de uma falta de imaginação ou de um dogmatismo teórico. Tudo é possível na condição de que as conexões atuantes sejam compatíveis com um conjunto de proposições maquínicas. Não se tratam de leis universais, uma vez que a “montagem” dessas proposições está situada, datada a partir de agenciamentos, de pontos de subjetivação, dado que ele é inseparável de escolha maquínica desdobrando linhas de um phylum maquínico relativamente irreversível que define com precisão as condições de transposição dos “princípios de realidade.”
A questão do sujeito e da liberdade se coloca sob uma ótica completamente nova a partir do momento que as combinações das escolhas não se aplicam unicamente sobre populações moleculares cujos formas, ritmos, intensidades energéticas e efeitos seriam redutíveis a matemáticas universais, mas prendem-se a pontos de singularidade ou de vizinhança, entre um extra-agenciamento, micro ou macroscópico, topográfico ou funcional. Então, não é mais concebível fazer da subjetividade uma entidade homogênea na ruptura de cosmos. Os núcleos conversores dos agenciamentos se diversificam, se complexificam até o infinito, segundo os eixos sincrônicos e diacrônicos, segundo as fórmulas de maquínicos abstratos ou dos phylums concretos associando, às vezes, as estratificações mais arcaicas às proposições mais desterritorializadas.
O sujeito e a máquina são indissociáveis um do outro. Entra uma parte de subjetividade no seio de todo agenciamento material. E, reciprocamente, entra uma parte de sujeição maquínica no seio de todo agenciamento subjetivo. O único meio de escapar aos obstáculos e aos resultados perniciosos dos idealismos contemporâneos, a nosso ver, é conferir um estatuto maquínico à subjetividade e aceitar, sem reticências, a existência de uma proto-subjetividade, de uma economia das escolhas, de uma paixão neguentrópica de todas as ordens do cosmo — e isto, desde o ponto zero de expansão do universo até o desabrochar dos maquinismos mais desterritorializados, tais como os da poesia, da música, das ciências — para nos restringirmos, por assim dizer, às atividades terrenas...
Já que nós os recusamos a reconhecer um estatuto existencial de exceção à subjetividade humana e que aceitamos que outras instâncias, como a da consciência e a da sensibilidade vivas, possam prender sua essência em direção dos fluxos e dos códigos atualizados, em direção a um maquínico de possível, a questão da constituição dos agenciamentos sociais, espirituais, afetivos e das estratificações materiais e energéticas pode ser talvez, colocada em novos termos: quer se trate de mundos fenomenalmente distintos, não implica mais, com efeito, que eles sejam essencialmente separados uns dos outros, que não participem dos mesmos phylums, do mesmo plano de consistência maquínica.
Existe “subjetividade” logo que se agenciam máquinas e pontos de singularidade. Mas, nenhum embargo, concreto de um sujeito em ação é possível, partindo-se de essências trans-históricas ou de análises fenomenológicas orientadas unicamente sobre conjuntos molares. Ser-em-si ou ser-para-si só valem relativamente para ser-para-a práxis, ser-para-o agenciamento. A subjetividade molecular, a parte viva, livre, criadora dos núcleos maquínicos, a economia do possível no seu ponto de nivelação ao real: tais são as últimas instâncias do inconsciente.
Os estádios e as normas
As máquinas abstratas do inconsciente não têm nada a ver com os chamados “estádios” que são considerados para pontuar, por exemplo, o “desenvolvimento” da criança. A passagem de uma idade da vida para uma outra não depende das programações construídas pelos psicólogos ou psicanalistas; ela está ligada aos reagenciamentos originais dos diferentes modos de codificação e de semiotização, dos quais não se pode determinar a priori a natureza nem o encadeamento.
Os “estádios” em questão não têm nada de automático; a criança, enquanto totalidade orgânica individualizada, constitui somente uma interseção entre os múltiplos conjuntos materiais, biológicos, sócio-econômicos, semióticos que a atravessam. A intrusão, por exemplo, na vida de um adolescente, dos componentes biológicos da puberdade é inseparável do contexto microscocial no seio do qual eles aparecem; eles provocam uma série de índices maquínicos que foram montados e, por outro lado, liberam uma nova máquina abstrata que se manifestará nos registros mais diversos: modificações dos códigos perceptivos: encontros de si mesmo e/ou exteriorização poética, cósmica, social, etc., oposição aos valores dos parentes, etc. Mas esse desencadeamento, na realidade, não tem nada de natural; outros componentes semióticos “exteriores” poderão igualmente acelerar, inibir ou reorientar os efeitos dos componentes biológicos semióticos da puberdade.
Onde começam e onde terminam, nessas codificações, as interações do social e do biológico? Certamente não é a partir de uma delimitação do indivíduo, considerada como totalidade orgânica ou subjunto do grupo ou familiar! A questão é colocada nos mesmos termos que a etologia. Pouco a pouco, são todas as máquinas dos socius que são postas em causa por tais fenômenos e, reciprocamente, é toda biologia que, no nível mais molecular, que se encontra relacionada pelas interações do campo social. Não se deveriam pois, separar, no plano individual, as manifestações da puberdade, consideradas em seu contexto orgânico familiar, escolar, etc., transtornos que, num plano social mais amplo, reconsideram a economia coletiva do desejo.
Como chega-se daí a ignorar que a sociedade inteira se encontra constantemente atravessada em suas fibras mais íntimas, por esses fenômenos de mudança biológica de timbre de voz que, de geração em geração, varrem infatigavelmente a infância e a adolescência? É verdade que as fugas do desejo, das quais elas são portadoras, são sistematicamente contidas pelas codificações da família, da escola, da medicina, do esporte, do exército e por todas as regulamentações e leis que são reputadas para reger o comportamento “normal” do indivíduo. Mas acontece, todavia, que elas chegam a cristalizar em maior escala as máquinas de desejo coletivos (desde os bandos do bairro até Woodstock ou Maio de 68, etc.). E o que só eram índices maquínicos, inícios de desterritorialização rápida e ineficaz torna-se, então, máquina abstrata suscetível de catalisar, no campo social, novos agenciamentos semióticos de desejo.
Evoquemos, a partir de alguns outros exemplos, as posições relativas e as funções dos índices maquínicos, das máquinas abstratas e dos agenciamentos semióticos aos quais a esquizo-análise será confrontada. Consideremos, em primeiro lugar, a escrita embrionária que se manifesta no desenho da criança até três ou quatro anos. Pode-se falar aqui apenas do índice de uma escritura. Nada é logrado, nada é cristalizado, tudo é ainda possível. Mas este índice, carregado pela máquina escolar, sofre uma mudança radical. O desenho perde sua plurivocidade. Há disjunção entre, por um lado, o desenhado — empobrecido, imitativo —, e, por outro lado, uma escrita totalmente voltada pela expressão adulta e tiranizada por uma preocupação de conformidade com as normas dominantes.
Como o agenciamento dos semióticos de escola conseguem assim tomar o poder sobre as intensidades de desejo da criança? Precedentemente convoquei a insuficiência das explicações que se limitam a considerar a ação repressiva dos equipamentos de poder sobre os índices maquínicos “da” criança. O que seria oportuno tentar compreender aqui é por qual razão, em um caso, uma tal reflexão alcança os seus fins e por que, em outro, ela fracassa. De outra maneira, parece-me impossível não recorrer à hipótese dos maquinismos abstratos. Se a cristalização de uma máquina abstrata “agarrando” a repressão é falho, o agenciamento de poder falhará igualmente seu efeito; os sujeitos se tornarão inadaptados, retardados, caracteriais, psicóticos, etc., todas as coisas que os mantêm em ordem poderão pôr na conta de um déficit, enquanto seria fácil perceber que nas condições não-repressivas, essas mesmas crianças não param de enriquecer sua criatividade semiótica de “antes da escola”.
A passagem do estádio do “trabalho normal” em classe, a aquisição de uma competência mediana em matéria de recitação, de escritura, de cálculo, etc., não depende, pois, de desencadeamento mecânico, de esquemas sensório-motores, interiorizados no decorrer de diversas “etapas” do desenvolvimento da língua. Os estádios dos quais tratamos aqui, não são de ordem psicogenética, mas repressivo-genética; e, em vez de considerar um “período de estado latente”, vindo pontuar o “declínio do complexo de Édipo” à maneira de um destino, a vida da criança, estaríamos melhor informados para estudar as constelações sociais concretas e suas tecnologias de submissão semiótica particulares, à medida que elas concorrem para seu cerco familiar e escolar, no momento decisivo de sua “entrada na vida” (poderíamos falar aqui de um complexo de “escola-caserna” para retomar a expressão de Fernand Oury).
As máquinas abstratas, que os pretendidos estádios psicogenéticos põem em jogo, não são assimiláveis aos esquemas gerais ao nível da percepção, da memória, da integração lógica, da estrutura do comportamento... De fato, elas cristalizam composições heterofílicas, misturam “fixações repressivas” e modos de territorialização arcaicos a componentes semióticos ultra-desterritorializados. Uma criança enurésica, por exemplo, chocar-se-á com uma fórmula abstrata — de um corpo sem órgãos — onde estarão associadas numa mesma fórmula repressiva, uma postura semiótica voltada para uma submissão interior, uma semiótica afetiva voltada para uma dependência das pessoas que a cercam e das máquinas sadomasoquistas educativas e terapêuticas, que vai dos leitos especiais às técnicas ditas behavioristas de “reforço das boas respostas” ou às interpretações tirânicas do dispositivo psicanalítico. Mas a máquina abstrata do “fazer pipi na cama”¹⁷ não preserva tanto a singularidade de suas danças mudas que ficarão sempre mais ou menos irredutíveis às análises discursivo-repressivas dos terapeutas de toda espécie! A boa vontade da criança, com respeito a eles, será não obstante algumas vezes tanto maior, que ela não diminuirá em nada a impermeabilidade dos componentes semióticos de seus sintomas em relação àqueles que são postos em jogo pelos procedimentos readaptativos. Mesmo se ela faz o jogo da repressão, mesmo se ele investe explicitamente, os traços de singularidade lhe permitirão livrar-se parcialmente.
Aliás, a repressão não procura submergir completamente a criança como totalidade orgânica, mas se enxerta nos elementos constitutivos de seus modos de semiotização. Não há, então, aplicação pura e simples do conjunto repressivo sobre o conjunto das máquinas desejosas, porém processos de mediatização por meio de máquinas abstratas que atravessam o socius e o indivíduo. Se uma criança enurésica manifesta como sintoma secundário o fato de não conseguir efetuar “divisões” na escola, isso não supõe uma inibição geral de sua competência lógica — ao contrário, perceber-se-á que ela é, muitas vezes, capaz de tratar, por outra via, dos problemas mais árduos —, mas apenas que ela “se organiza” numa satisfação repressiva no quadro do rizoma (escola-professor-pais-sistema de rotação-traços de aparência repressivos-proibidos objetivando a masturbação, etc.). Sua recusa de um certo tipo de discursividade lógica manifesta seu desejo de “globalizar” o agenciamento em questão.
Ele se organiza como uma espécie de zona erógena extracorporal, territorializada sobre uma escora particular; a questão “fazer divisões” torna-se então uma ponta maquínica, o índice de uma linha de fuga potencial. Em outras circunstâncias, a mesma criança poderia, outroassim, optar por outros sintomas, por exemplo, tornar-se mouca, ter crises de angústia acompanhadas de ejaculações com a leitura do enunciado de um problema... Efetivamente, as máquinas do poder familiar, escolar, redutivo só podem encontrar sua eficiência na medida que elas consigam se prender a tais zonas bio-psico-sociais, que não tomarão, de modo algum, a forma de neuroses etiquetadas. (Exemplo: os terapêuticos adaptativos e recuperadores cuja finalidade é reprimir, moralizar modos de semiotização de uma criança que territorializa sua libido sobre uma zona de gaguez, sem que seu campo pragmático seja reorganizado de modo que se abram para ela novos horizontes, novas realidades.)
Assim, por meio das máquinas abstratas, a libido não cessa de circular entre as instâncias da repressão social e aquelas da semiotização individual. Mas esta circulação não tem nada de automático, nada de necessário: para ser possível, devem ser reunidas duas condições: 1) o desejo ‘individual’ deve cristalizar seus índices, suas pontas maquínicas sobre uma máquina abstrata; 2) certos elementos do socius repressivo devem ser concebíveis a esta máquina abstrata. A instância fundamental abstrata, inconsciente, desenvolve no vácuo a possibilidade de um outro agenciamento do mundo. Ao sair da infância, por exemplo, um adolescente verá como num flash toda a riqueza e as ameaças que encobrem os novos agenciamentos de enunciação dentro do qual ele se liga e do qual ele é, ao mesmo tempo, parte tomada e parte tomada. Por isso eu repito, ela constitui uma instância fundamental meta-estável entre as intensidades do desejo e as estratificações semiológicas dominantes. Todavia, pela diferença dos índices maquínicos que só antecipam sua cristalização, elas subsistem no estado de virtualidade, mesmo quando elas não consolidam as vias de sua manifestação. Enquanto que os índices, os sintomas, podem a todo momento se espalhar e permitir que se instale o retorno poderoso das antigas estratificações, as máquinas abstratas continuarão, em todas as circunstâncias e em todos os lugares, ameaçando-as com uma possível transformação revolucionária. É por uma espécie de contaminação semiótica imediata que são transmitidos de um sistema a outro os maquinismos abstratos mais desterritorializados. Mas, enquanto que as abstrações capitalistas se implantam de maneira durável passando do mundo “adulto” para a infância, do mundo “civilizado” para os “primitivos” e os bárbaros, parece que passam apenas índices precários, linhas de fuga frágeis em sentido inverso.
Neste nível, nada entretanto é jogado definitivamente: tudo depende da constituição dos agenciamentos coletivos de enunciação; um novo agenciamento pode tornar a se fechar sobre um sistema fechado de semiologização — sobre uma substância dualista significante-significado — ou pode provocar reações diagramáticas em cadeia, fugas maquínicas de desejo que irão transpor o “muro das significações” e operarão conexões diretas entre as pontas de desterritorialização das máquinas de signos e aquelas dos conjuntos materiais e sociais. As máquinas abstratas inconscientes “materializam”, se se pode dizer, uma tripla possibilidade:
1— seja sua própria dissociação e a volta à “anarquia” dos índices maquínicos (o pretendido processo primário);
2— seja uma estratificação relativamente desterritorializada pela “petrificação” sob a forma de abstração e de jogadas das redundâncias semiológicas significativas (a adaptação normal ou neurótica às realidades dominantes);
3— seja uma desratificação ativa, por efeito de diagramatização e circulação de signos-partículas a-significantes (a revolução molecular, a esquizo-análise...).
Uma máquina abstrata inconsciente, diferente de um “complexo” freudiano, não pertence pois a um estádio entre outros estádios; ela pode participar de vários estádios ao mesmo tempo, sob uma modalidade ou sob uma outra: no nível de índices onde ela representa a potencialidade de uma integração maquínica em grau “superior” — que seria ou não recuperado por um extrato — no nível de estratos, onde ela representa a potencialidade de uma diagramatização desestratificante. Puras quantas de desterritorialização potencial, as máquinas abstratas estão em toda a parte e em nenhuma parte, antes e após cristalização das oposições máquina e estrutura, representação e referente, objeto e sujeito. Elas podem tanto pesar a ameaça de uma totalização reificante das multiplicidades como abrir a possibilidade de uma multiplicação desterritorializante das estratificações. Sua existência “antes” da aparição de uma máquina semiótica autônoma, distribuindo sobre planos separados de conteúdo e de expressão os signos, as coisas e as representações, nos proíbe de reduzi-las a um sistema lógico-matemático ou a formas a priori; enquanto que sua existência “após” a estratificação das semiologias significantes, como via de passagem diagramática entre os signos e as coisas, nos interdita de considerar como simples invariantes estruturais as estratificações ou abstrações transcendentes.
Mesmo que os estratos sejam para elas somente resíduos provisórios dos processos de desterritorialização, não sendo nada por si-mesmos, de um ponto de vista substancial, eles são constrangidos a se manifestar, a se estratificar e se desestratificar permanentemente, sem todavia, limitar-se a um face a face impotente do tipo forma-matéria. Há, então, uma dissimetria fundamental entre o formalismo, fechado sobre si mesmo, estratos que “se instalam” na existência, e a formalização ativa, aberta, que é “pilotada” pelas máquinas abstratas, no nível dos índices maquínicos e do diagramatismo, marcando o caráter, ao mesmo tempo criador e irreversível, dos processos de desterritorialização. Nessas condições, um equilíbrio homeostático dos estratos não será nunca garantido: eles são “ameaçados do exterior” pelo trabalho de desterritorialização interestrática de maquinismos abstratos que podem terminar em remanejamentos e nas criações de novos estratos; e do “interior” pelo metabolismo de linhas de fuga que os atravessam de todas as partes.
O possível inconsciente, antes de sua manifestação nas estruturas semióticas ou nas estratificações sociais ou materiais não existe como pura matéria lógica; ele não parte também do nada, é organizado sob a forma de quanta de liberdade, numa espécie de sistema de valência, cuja diferenciação e complexidade não perde em nada para aqueles das cadeias da química orgânica ou das codificações genéticas.
O metabolismo do possível não depende somente de uma “matéria lógica”. Ele põe em jogo matérias de expressões diferenciadas em função de seu grau de desterritorialização. O plano de consistência que desdobra o conjunto infinito das potencialidades maquínicas constitui uma espécie de placa sensível de ajustagem, de seleção e de articulação das pontas de desterritorialização ativa nos seios dos estratos inconscientes. Não há possível em geral, mas somente a partir de um processo de desterritorialização que não deve ser confundido com uma aniquilação global e indiferenciada. Existe uma espécie de matéria da desterritorialização inconsciente, uma matéria do possível, que constitui a essência do político, mas um político trans-humano, trans-sexual, trans-cósmico. O processo de desterritorialização deixa sempre restos, seja sob a forma de estratificações — espaço-temporalizadas, energizadas, substancializadas —, seja sob a forma de possibilidades residuais de linha de fuga e determinação das novas conexões. A desterritorialização não para nunca no caminho, e é nisso que ela difere de uma máquina que se representa fechado sobre si mesmo e mantendo relações de espelho e de incapacidade com o real estratificado. O sistema das máquinas abstratas constitui deste modo um limite ativo, um limite produtivo além dos estratos mais desterritorializados e aquém de um ideal ou transcendência do todo processo. As máquinas abstratas não são um negócio de instâncias psicológicas; antes de depender das ciências da cultura, das ideologias ou dos ensinamentos, elas dependem da política do desejo, “antes” que os objetos e os sujeitos tenham sido especificados. Eu repito, não se trata aqui de uma liberdade ligada intrinsecamente à condição humana, de uma liberdade de “para si” em oposição radical com um “em si” estratificado, de deste fato sem conexão com qualquer outro ou com sua própria impotência. Passando de um agenciamento para outro, recebe-se ele por-se em correlação de conexão desterritorializante; a desterritorialização não é assimilável a uma causalidade necessária, ela pode se vetorizar ou não em direção de uma estratificação, ou em direção de uma “possibilização” aberta.
Deste modo, somente em termos de contribuições de certos quanta de possível marcados pela repressão social que se poderá compreender, por exemplo, o pretendido período de “latência” descrito pelos freudianos. Ele se manifestaria, segundo eles, entre seis e oito anos por uma “amnésia infantil” que resultaria de um retrocesso objetivando todo passado edipiano e pré-edipiano da criança. Mas, disse-nos Freud que toda memória não é abolida por isso: restam “vagas lembranças incompreensíveis”. Incompreensíveis para quem? Para o adulto branco, civilizado e normal! Na realidade, não é de memória fraca que se trata, mas do fato de que o conjunto dos modos de semiotização da criança, suas sensações, seus sentimentos, seus impulsos sexuais, recebam um formidável golpe de esmaecimento. Para que invocar a existência de um mecanismo de retrocesso intrínseco ao desenvolvimento pulsional da criança — que será, em seguida, transportada para um tal “retrocess origirnário” e, finalmente, para um antagonismo universal entre Eros e Thanatos — se não for para disfarçar a entrada em cena dos agenciamentos sociais repressivos?
Por que a política semiótica da criança se inverte, por que ela toma o partido repressão? Por que os fatores de desterritorialização que desequilibram as territorialidades anteriores, em lugar de abrir o processo para uma maior criatividade semiótica, o vetorizaram sobre as abstrações do sistema dominante? Assim que se tenta renunciar às respostas esquemáticas do determinismo psicogenético, as questões, elas próprias se voltam e se enriquecem. Em função de qual particularidade uma criança, no contexto dos poderes repressivos da família e da escola de uma dada sociedade, resiste ou sucumbe diante da “tentação” de um investimento de repressão? No caso do “período de latência”, que espécie de máquina abstrata escolar, no terreno concreto dos sistemas existentes, conecta-se às máquinas abstratas da criança? Em que os semióticos postos em ação, por exemplo, pelas creches prosseguem no trabalho de esmaecer as intervenções “educativas” dos pais? (Sabe-se, com efeito, agora, que é desde a creche que se coloca a divisão entre um tempo de “trabalho” e um tempo de recreação.) Em que a aprendizagem, na escola, de uma escrita destacada de toda utilização viva poderia esterilizar as possibilidades ulteriores de um diagramatismo criativo? Como os semióticos do tempo e do espaço escolares (divisão entre os dias de aula, os dias de férias, divisão entre o espaço da classe, o espaço do mestre, o espaço da recreação, a rua, etc.), como os semióticos da disciplina (a colocação em filas, as notações, a emulação, as punições, etc.) chegam a rebaixar, algumas vezes, em definitivo, os semióticos da criança, “diante da escola”? E como eles estimulam os condicionamentos semióticos da fábrica, do escritório e da caserna?
Na realidade, a máquina do ensino obrigatório não tem por fim primordial transmitir informações, conhecimentos, uma “cultura”, mas o transformar inteiramente as coordenadas semióticas da criança. Pode-se considerar, nestas condições, que a função real do “período de latência” é um equivalente moderno dos campos de iniciação que, nas sociedades primitivas, fabricam “pessoas” com exceção, isto é, dos adultos machos que respondem pelo essencial das normas do grupo²². Mas aqui, o campo de iniciação, em lugar de durar quinze dias, dura quinze anos, e seu objetivo é submeter os indivíduos até o âmago de suas fibras nervosas aos sistemas de produção capitalistas. A amnésia infantil correlativa do “período de latência” marca assim a extinção dos semióticos não-sujeitados às semiologias significantes dos poderes dominantes. E se os neuróticos como as crianças “pré-edipianas” são descobertos, é precisamente porque os sistemas de cerco desses poderes, por um razão ou outra, falharam em sua dominação sobre eles. Desde então, as intensidades “pré-capitalistas” continuam a trabalhá-los, transtornando-os e pondo-os a contra-corrente dos valores e das significações “normais”. O papel da memória — seja a natural do adulto que rememora sua infância com nostalgia; seja a artificial, da anamnésia psicanalítica — consiste em renovar a primeira supressão dessas intensidades e reconstruir uma infância segundo as normas.
O calco e as árvores, as cartas e os rizomas
A esquizo-análise enquanto pragmática do inconsciente maquínico deveria esforçar-se para escapar de dois tipos de obstáculos:
1- uma análise centrada sobre a pessoa, sobre o vivido ou sobre o corpo, sobre a regulamentação do comportamento, sobre o “desenvolvimento” do psiquismo... do tipo das práticas que reinam atualmente nos Estados Unidos;
2- uma análise exclusivamente centrada sobre um material verbal fundado sobre uma micropolítica de buraco negro transferencial e sobre interpretações semiológicas dos afetos e dos comportamentos, o que eu chamaria uma “paradigmatização” sistemática de todos os conteúdos e de todas as estratégias enunciativas a partir de referências abstratas ou estruturais. Um indivíduo isolado, um terapeuta, um grupo, uma instituição ou um vasto conjunto social podem constituir um agenciamento analítico — mas unilaterial²⁴ — que não se reduz, aliás, somente a uma totalização de indivíduos, mas que compromete outros fluxos “não-humanos” (sexualidade não-humana, fluxos econômicos, fluxos materiais, etc...)
Antes de todo empenho no detalhe das produções enunciadas e dos modos de semiotização, uma esquizo-análise terá de determinar as principais linhas micropolíticas dos agenciamentos de enunciação e das formações de poder compreendidas aí no nível mais abstrato. Dito de outro modo, para cada caso e cada situação, ela terá de construir uma carta de inconsciente — com seus estratos, suas linhas de desterritorialização, seus buracos negros — aberta sobre perspectivas de experimentação (e isso em oposição à reprodução infinita das triangulações edipianas que põem em ressonância uns aos outros, todos os impasses existentes, todos os modos de sujeição significantes no efeito cumulativo do buracos negros que constituem o transfer (a análise interminável). A articulação pragmática dos estratos de codificação, por mais bloqueados que sejam, deixam sempre em aberto um mínimo de possibilidades de “reprodução” e de transformação por meio de máquinas abstratas, atravessando os diversos modos de territorialização. Os diferentes tipos de consistência — biológica, etológica, semiológica, sociológica, etc. . . — não dependem de um superestrato, estrutural ou genitivo; eles são trabalhados do “interior” por uma rede de conexões maquínicas moleculares. A consistência maquínica não é totalizante mas desterritorializante. Ela garante sempre a conjunção possível dos sistemas de estratificação mais diferentes e é nisso que ela constitui, se se pode dizer, o material de base a partir do qual se poderá constituir uma práxis transformacional.
Os modos de semiotização de um pragmático analítico não se apóiam sobre árvores mas sobre rizomas (ou linhagem). Não haverá nenhuma razão, a priori, para que eles pragmáticos comecem em um ponto S para derivar em seguida em dicotomias sucessivas. Um ponto qualquer do rizoma poderá ser conectado a um outro ponto qualquer. Além disso, cada traço não se reportará necessariamente a um traço linguístico. Um elo linguístico poderá ser conectado ao elo de uma semiologia não-linguística ou a um agenciamento social, biológico, etc. . . Estratificações segmentárias serão correlacionadas com linhas de fuga de desterritorialização. Um rizoma, por definição, não poderá, então, ser formalizado a partir de uma metalinguagem lógica ou matemática. Ele não será devedor de nenhum tópico psicanalítico, de nenhum modelo estruturalizado. Ele poderá ser levado a conectar eles semióticos de toda natureza e a unir as práxis muito diferentes assinalando, por exemplo, artes, ciências, lutas sociais, etc... Enquanto processo de diagramatização maquínica, não será redutível a um sistema de representação e implicará o trabalho de diversos agenciamentos coletivos de enunciação. A confecção de um rizoma esquizo-analítico não terá por fim a descrição de um estado de fato, o reequilíbrio de relações intersubjetivas, ou a exploração dos mistérios de um inconsciente escondido nos recantos obscuros da memória. Ela será, ao contrário, inteiramente voltada para uma experimentação tomada sobre o real.
Ela não “decifrará” um inconsciente já todo constituído, fechado sobre si mesmo, ela o construirá e concorrerá para a conexão de campos, para a desblocagem de corpos sem órgãos estratificados, vazios ou cancerosos, e para sua abertura máxima sobre o plano de consistência maquínica. Ela será levada a pôr em jogo modos de codificação e semióticos diversos, de ordem, por exemplo, biológica, sensitiva, perceptiva do pensamento por imagens, do pensamento categorial, dos semióticos gestuais, verbais, de campos políticos e sociais, das escritas formalizadas, das artes, da música, dos ritornelos. Diversamente da psicanálise que procura sempre diminuir cada enunciado e cada produção libidinal sobre uma estrutura, os supercódigos, a esquizo-análise terá por objeto cercar seus elementos repetitivos naquilo que nós chamaremos sistemas de calcos, suscetíveis de se articularem a uma carta do inconsciente.
Os calcos constituem elementos essenciais da semiotização diagramática. Eles não têm por função captar as redundâncias de ressonância, de representar as realidades estratificadas, mas começar diretamente o trabalho dos signos-partículas mutacionais. As figuras de expressão, no seio dos calcos, são tratadas como matérias-primas de uma experimentação objetivando as máquinas abstratas. As cartas, elas próprias, são como laboratórios onde as experimentações de calco são postas em interação. A carta é então oposta aqui à estrutura; ela pode se abrir em todas as dimensões; ela pode também ser dilacerada; ela pode se adaptar às montagens de toda natureza. Uma carta pragmática pode começar o trabalho por um indivíduo isolado ou por um grupo, pode-se desenhá-la sobre um muro, pode-se concebê-la como uma obra de arte, pode-se conduzi-la como uma ação política ou como uma meditação. O importante é determinar em que um tipo de proeza, considerando um agenciamento particular de enunciação, um calco redundante, modifica ou não a carta inconsciente de uma competência pragmática local. Estas cartas de competência não dependem de modo absoluto de uma competência mais ampla. Tal carta, que servirá de ponto de referência para uma práxis coletiva (por exemplo, de uma comunidade antipsiquiátrica ou de um grupinho) poderá não ter algum valor para outro conjunto social (por exemplo, para o conjunto da psiquiatria na França, ou o conjunto dos movimentos políticos). As relações diferenciais entre os calcos de êxito e as cartas de competência jogam-se no nível dos diversos tipos de segmentaridade de codificação. A “competência” relativa de uma pragmática em relação a uma outra depende do fato que ela põe ou não em jogo uma segmentaridade mais fina, mais maquínica, mais molecular, mais desterritorializada que aquela; mais molar que a segunda, que se encontra assim numa posição “de sucesso”. É somente com as semiologias significantes que uma relação hierárquica de dupla segmentaridade se instaura entre as cartas e os calcos, fixando uma margem estreita para as possibilidades de inovação semiótica. Única aparição de uma linha de fuga de desterritorialização (exemplo: utilização diagramática dos signos de origem linguística nos domínios estético, científico, etc...) poderá, então, transtornar as estratificações de um tal equilíbrio.
Viu-se que no nível dos estratos passadificados, espacializados, ou substantificados semiologicamente, os equilíbrios, as relações de forças não podem mais se manifestar somente a partir de uma desterritorialização relativa, pela correspondência de pelo menos dois sistemas de segmentaridade (exemplo: segmentaridade molar dos morfemas da primeira articulação linguística e segmentaridade molecular das figuras de expressão da segunda articulação), enquanto que no nível das mutações maquínicas os estratos são desfeitos ou reorganizados por processos diagramáticos pondo em jogo uma desterritorialização quantificada por sistemas de signos-partículas. Nunca as linhas de desterritorialização diagramáticas transcendem “definitivamente” as estratificações segmentárias. De suas interações com os sistemas estratificados podem tanto resultar vetores alienados de um possível não-realizável no contexto existente, como verdadeiras mutações maquínicas²⁵. Não existe cartografia universal. Assim como não poderia existir um conjunto abstrato de todas as máquinas abstratas, não se pode esperar traçar uma carta geral de todas as cartas pragmáticas. Nenhuma categoria lógica ou topológica, nenhum axiomático pode subsumir o conjunto dos diferentes tipos de: consistência maquínica.
As máquinas abstratas, sendo incompostas sobre um plano intensional, não se pode inserí-las numa classe extensional. Nenhuma máquina abstrata, fora de prumo da história, não sendo sujeito da história; as multiplicidades maquínicas atravessando ao mesmo tempo sobre um plano diacrônico e sobre um plano sincrônico, os estratos das diferentes realidades “provisoriamente dominantes”; não se pode falar do movimento geral de sua linha de desterritorialização onde ele manifesta uma tendência universal e homogênea, visto que, como em todos os níveis, ela é interrompida por reterritorializações sobre as quais se inserem, de outra maneira, brotinhos microcósmicos de desterritorialização. A cartografia dos maquinismos abstratos faz a história ao desfazer as realidades e as significações dominantes: elas constituem o umbigo, o ponto de emergência e de criacionismo do phylum maquínico.
O agenciamento fóbico se constitui no limite de uma série de provas que se jogam sucessivamente:
A) sobre o território familiar,
B) sobre o território do leito conjugal dos pais,
C) sobre a aparência da mãe
D) sobre o objeto do poder fálico,
E) sobre a territorialidade maquínica do fantasma inconsciente.
Há conjunção das desterritorializações dos dois tipos de consistência: a fobia participa aqui de um vetor esquizo.
Deparamo-nos aqui com a problemática de alternativa grupo-sujeito/grupo sujeitado, que não pode jamais ser tomada como uma oposição absoluta. As relações de alienação entre os campos de competência supõem sempre uma certa margem que volta à pragmática de localizar e explorar; em outras palavras, no seio de qualquer situação, uma política diagramática pode sempre ser “calculada”, que recuse toda ideia de fatalidade, qualquer que seja o nome que se lhe dê, divina, histórica, econômica, estrutural, hereditária ou sintagmática, uma política que implique pois, em primeiro lugar, numa recusa ativa de toda concepção do inconsciente como estádio genético, como destino estrutural. Para um grupo, ela necessita de uma ajustagem permanente dos investimentos de desejo suscetíveis de frustrar as reificações burocráticas, as lideranças, etc... “Trabalhar” a carta do grupo, isso consistiria em proceder os remanejamentos e as transformações do corpo sem órgãos do grupo. Não se poderia levar em consideração uma tal pragmática: ela só pode recusar toda vocação de hegemonia da linguística, da psicanálise, da psicologia social, do conjunto das ciências humanas, sociais, jurídicas, econômicas, etc... Estudar o inconsciente, por exemplo, no caso do pequeno Hans, isso teria consistido em estabelecer, levando em conta o conjunto de suas produções semióticas, sobre qual tipo de árvore ou de rizoma sua libido foi levada a se investir. Como, em tal momento, o ramo dos vizinhos cortou-se, depois de quais manobras a árvore edipiana encolheu-se, que papel representou a ramificação do Professor Freud e sua atividade de desterritorialização, por que a libido foi constrangida a refugiar-se sobre a semiotização de um tornar-se cavalo, etc... A fobia assim, não seria mais considerada como um resultado psicopatológico, mas como a pragmática libidinal de uma criança que não pôde encontrar outras soluções micropolíticas para sair das transformações familiares e psicanalísticas.
Esquizo-análise e revolução molecular
“Faça-o!” tal poderia ser a palavra de ordem de uma esquizo-análise micropolítica. O axioma de gramaticalidade dos chomskyanos (S) não somente é mais aceito como indo de si, mas ele se torna o objeto de uma espécie de oposição militante. Recusamos considerar que os agenciamentos semióticos de toda natureza devam necessariamente se organizar em frases compatíveis com o sistema das significações, a compor com elas; ela postulará que, além de seu sistema de redundância, é sempre possível transformar o agenciamento semiótico que lhe corresponde. Há aí uma petição de princípio primeiro, um axioma micropolítico incontornável: a recusa em legitimar o poder significante manifestado pelas “evidências” das “gramaticalidades” dominantes. A apreciação de um “grau de gramaticalidade” tornou-se uma matéria política. Antes de aceitar ficar prisioneiro da redundância dos calcos significantes, nós nos dedicaremos a fabricar uma nova carta de competência, novas coordenadas diagramáticas a-significantes. E o que fizeram os leninistas por ocasião de sua ruptura com os sócio-democratas, quando eles decidiram, com um certo arbítrio, que, a partir da constituição de um partido de tipo novo, seria criada uma fenda entre a vanguarda proletária e as massas, que teria por efeito transformar radicalmente sua atitude de passividade, sua espontaneidade e sua tendência “economista”. O fato de que esta transformação leninista tenha oscilado ulteriormente no campo de redundância do burocratismo estalinista mostra que, nesse domínio, os sistemas de cartas e de calcos podem sempre se inverter e que nenhum fundamento estrutural, nenhuma legitimação teórica saberia garantir definitivamente a manutenção de uma “competência” revolucionária²⁷. O que quer que seja, os leninistas fizeram surgir do campo social uma nova matéria de expressão, uma nova carta de inconsciente político, em relação às quais todas as produções de enunciados, incluindo as dos movimentos burgueses, terão sido constrangidas a se determinar. Uma outra transformação da carta inconsciente do movimento revolucionário tinha sido produzida pelos marxistas da Primeira Internacional marxista que “inventaram” literalmente um novo tipo de classe trabalhadora desterritorializada, antecipando as transformações sociológicas que deviam conhecer as sociedades industriais.
Uma esquizo-análise micropolítica não aceitará jamais como um fato consumado sistemas de redundância que parecem, aparentemente, só poder conduzir a impasses; ela se esforçará para fazer emergir processos de diagramatização, analisadores, agenciamentos coletivos de enunciação que destituirão os modos individualizados de subjetivação e a partir dos quais serão registradas e remanejadas as relações micropolíticas anteriores. Mas não se trataria aí, unicamente, de instrumentos organizacionais, programáticos ou teóricos, mas fundamentalmente de mutações na pragmática social.
A tarefa de uma tal pragmática consistirá então em operar conexões entre os sistemas transformacionais capazes de anular os efeitos das gerações significantes e discernir as orientações micropolíticas concernentes ao conjunto dos sistemas semióticos caminhando no sentido de “revoluções moleculares”. As transformações diagramáticas são suscetíveis de levar seus efeitos a qualquer registro semiótico: quer se trate das semiologias simbólicas (por exemplo; com os efeitos do mimetismo, do transitivismo, etc.), das semiologias significantes (com sistemas de expressão fundados sobre uma série delimitada de elementos discretos: fonemas, grafemas, traços distintos, etc.), ou mesmo dos modos de codificação “naturais”. Em cada situação o objetivo esquizo-analítico consistirá em livrar a natureza das cristalizações do poder que se operam em redor de um componente transformacional dominante: carta dos buracos negros, das ramificações semióticas, e linhas de fuga (exemplo: nos impérios asiáticos, a instauração de uma escrita significante despótica, ou na paranóia, a emergência de um delírio significante sistematizado). O desarranjo de um componente significante e a aparição de um novo componente diagramático reduzirá os efeitos de significância e de individuação e conduzirá a enunciação a não ser mais que um elemento entre outros dos agenciamentos maquínicos (exemplo: a emancipação de uma máquina de escrita de sua função significante no trabalho poético, musical, matemático, etc.).
As transformações pragmáticas agenciarão sincronicamente suas composições em função de diversas estratégias políticas; mas elas organizarão, igualmente, diacronicamente suas mutações sobre um rizoma maquínico. Se bem que sua evolução ande de forma global, no sentido de uma desterritorialização crescente, pontuada de reterritorializações sempre mais brutais sobre as estratificações artificiais, não se pode verdadeiramente tirar leis gerais a elas concernentes. E é assim mesmo! Os agenciamentos pragmáticos são maquínicos; eles não dependem de leis universais propriamente ditas; eles estão sujeitos a mutações históricas. Falaremos assim de um “complexo romântico”, de um “complexo da frente popular”, de um “complexo da Resistência”, de um “complexo leninista”, que mantiveram seus efeitos fora de sua localização de origem histórica, sem que se possa lhes dar o caráter de universalidade que os psicanalistas emprestam ao complexo de Édipo, ou os maoinistas ao complexo de “revisionismo”. Os pontos de ajustagem pragmáticos não destituem os universais; eles podem ainda ser reconsiderados. Consideremos, por exemplo, o fato de que as segmentaridades mais territorializadas têm “tendência” a tomar o controle das segmentaridades mais molares. Há, com efeito aí, uma espécie de lei. Mas ela só é válida num quadro de um dado período, até o momento em que uma situação revolucionária, transtornando as cartas de competência, revelará a existência de um outro maquinismo que estava destruindo subterraneamente um equilíbrio anterior. Uma diferenciação dos coeficientes de desterritorialização deveria, contudo, permitir vetorizar sequências políticas — por exemplo uma “linha” de esquizofrenização contra uma “linha” paranóica — na luta contra transformações burocráticas. Mas não se poderá jamais deduzir disso como alguns acreditaram poder fazê-lo a partir do “Anti-Édipo”, mesmo que aí se tratasse de uma nova alternativa maniqueísta. Cada orientação permanece provisória. Todos os tipos de “entradas” em um sistema pragmático são sempre possíveis, tanto do lado das proezas de calcos, como no das competências de cartas.
No primeiro caso, aceitar-se-á o caráter repetitivo, embaraçoso, dos investimentos libidinosos, apoiar-se-á mesmo sobre eles, para garantir a territorialização mínima de um corpo sem órgãos, a partir do qual outras operações transformacionais serão possíveis (exemplo: lado positivo das lutas regionalistas). Em outro caso, se apoiará diretamente sobre uma linha de fuga capaz de explodir os estratos e de operar novas ligações semióticas. Esquematizando e retomando uma outra terminologia, dir-se-á sobre a pragmática gerativa que ela se ocupará especificamente dos corpos sem órgãos, vazios e cancerosos, enquanto a pragmática transformacional se ocupará dos corpos sem órgãos cheios, conectados no plano de consistência maquínica. Mas o que primeiramente reúne esses dois tipos é que o único fato de introduzir um modo de semiotização que os interesse em particular, o único fato de memorizar as potencialidades, de pôr em relevo os calcos e escrever cartas, estimulará já os efeitos diagramáticos; o único fato de decidir escrever seus sonhos, por exemplo, antes de interpretá-los passivamente, o único fato de desenhá-los ou arremedá-los por gestos poderá transformar a carta do inconsciente. Uma das ciladas temíveis da psicanálise reside no fato de que ela conseguiu se apoiar sobre a transformação mínima que representa a ordem de um discurso fora das condições habituais de enunciação: toda a “missão do psicanalista se reduz, no momento, a extinguir pela técnica do transfer, os efeitos diagramáticos desta transformação e a recomeçar o discurso do paciente em novas criptografias de redundâncias significantes.
Uma pragmática esquizo-analítica dos agenciamentos coletivos oscilará constantemente entre esses dois tipos de micro-políticas semióticas, elaborará uma espécie de tecnologia de reconsideração das significações dominantes. O discurso significante, ele próprio, nessas condições, poderá se transformar em “máquina de guerra” certamente com o risco constante do restabelecimento de um sistema de redundância de ressonância! (Notamos, com efeito que, do ponto de vista de uma pragmática transformacional, não há diferença fundamental entre uma máquina de guerra e uma máquina diagramática linguística: umas e outras fazem parte do mesmo tipo de rizoma.) Acrescentamos que a apreciação das transformações de consistência de eficiência semiótica operadas no seio de um campo pragmático não é um objetivo sem importância; não se trata, com efeito, de propor uma política da novidade pela novidade, por exemplo, uma conversão mimética excessiva sob o pretexto de jogar uma linha esquizofrênica contra uma linha paranóica! Os agenciamentos pragmáticos cartas-calcos intervêm essencialmente ao nível dos traços da matéria de expressão. São eles, em última força, que determinam o regime dos coeficientes de desterritorialização, dos ritmos, das induções, das viscosidades, dos efeitos de bumerangue, etc..., compatíveis com a fabricação de um corpo sem órgãos. A ajustagem não depende então, aqui, de análises teóricas ou de transfers afetivos mas de uma composição de sistemas de intensidade. A redundância dos traços da matéria de expressão toma, em suma, a substituição dos traços formalizados da substância de expressão. A concepção de uma árvore de tipo gerativo não será então independente daquela de um rizoma do tipo transformacional. No centro de uma árvore gerativa, um novo rizoma pode se ramificar e será mesmo, talvez, o caso mais geral, um elemento microscópico da árvore, uma radícula, estimulará a produção de um novo tipo de competência local, enquanto que um dos diferentes componentes semióticos (perceptivo, sensitivo, de pensamento por imagens, de palavra, de socius, de escrita), supercodificado numa árvore gerativa, poderá malograr por outra via.
Um traço intensivo trabalhará por sua própria conta, uma percepção alucinatória, uma sinestesia, uma mutação perversa, um jogo de imagens, destacar-se-á e, por uma única vez, será a hegemonia do significante que será reconsiderada²⁸. As árvores gerativas, construídas sobre o modelo sintagmático chomskyano, que McCawley, Sadock, Dieter Wunderlich, etc., esforçam-se para adaptar à pragmática linguística (cf. Langages, junho 1972, n.º 26), podendo assim se abrir e brotar em todos os sentidos. Um enunciado performativo, por exemplo, uma promessa, uma ordem, podem mudar o alcance de uma situação — nada a ver com sua significação — em função da aparição de uma nova transformação. É evidente que um sermão não tem de forma alguma o mesmo alcance quando ele é enunciado no contexto de uma transformação de “poder” conjugal, policial ou religioso. Dizer “eu o juro” diante de um juiz ou numa cena psicodramática não tem a mesma função, não determina o mesmo tipo de personagem, nem o mesmo tipo de intersubjetividade. A questão não é mais apenas saber se uma transformação pragmática intervém, pois, nos diferentes níveis: semântico, sintáxico, fonológico, prosódico, etc., mas estudar como ela intervém sobre um plano micropolítico.
E, no caso em que não se vê sua incidência, é que a análise não foi levada a seu termo! É exatamente a atitude inversa daquela dos linguistas que procuram minimizar o papel dos componentes pragmáticos e só aceitam levá-los em conta quando não conseguem mais evitá-los. Não se interrogam mais aqui a sintaxe e a semântica para detectar se elas contêm em si elementos pragmáticos; interrogam-se as composições semióticas pragmáticas dos agenciamentos de enunciação para descobrir os efeitos paralisantes das redundâncias significativas. Quando Boukharine jura sua culpabilidade em seu processo, ele sabe perfeitamente que mente do ponto de vista do contexto “real” e, no entanto, ele diz a verdade do ponto de vista do personagem militante ao qual pretende ser fiel até a morte.
Esta ambiguidade já é sensível na leitura dos resumos oficiais, e é totalmente permissível pensar que uma análise sintáxica, fonológica, etc..., do discurso que ele efetivamente tem mantido permitiria tirar os efeitos sobre sua expressão oral, da transformação: “processo de Moscou”, e do sucesso internacional que esta fórmula há muito tempo conhecia (seria evidentemente absurdo considerar que se possa tipificar, uma vez por todas, tais transformações de poder ligadas à escola, ao tribunal, ao partido, à família, na medida em que elas modificam por exemplo a significação de um performativo ou procuram extrair disso “universais”).
Geralmente consideram-se os atos de cidadania como sendo o coroamento de uma série que começa com o comprometimento nos valores familiares. Assim, são sobrepostos os modos de organização mental que começam nos níveis mais primitivos, como aqueles das fixações orais, até os níveis mais etéreos da sublimação. Mas, na realidade, as coisas não se passam assim: todos os “estádios” podem jogar ao mesmo tempo e todos podem voltar sobre um ponto do sistema para fazê-lo saltar. Repetimos: nenhuma fidelidade genética, nenhuma competência geral de uma língua adulta dominante constituirá jamais uma referência totalizante para as proezas particulares. O objetivo de uma pragmática esquizo-analítica é determinar onde há coincidência entre as cartas e quais disjunções poderão ser utilizadas, qual é o alcance de uma tomada de poder significante sobre um dado sistema, qual é a natureza das formações de poder que se ramificam sobre o significante S que organiza e supercodifica um corpus de enunciados e de proposições.
Uma proposição repressiva não funciona, por exemplo, do mesmo modo conforme ela é agenciada por uma enunciação molar militar ou uma enunciação molecular microfascista. Para cada rizoma situacional corresponderão dialetos, até idioletos particulares. E, no caso onde esses últimos serão atravessados por uma língua, por uma gramaticalidade geral, tratar-se-á sempre de uma instância dominante de supercodificação, funcionando como o hábito de falar francês em relação às línguas vernáculas regionais e coloniais raras vezes, a qual foi substituída hoje pelas novas formações de poder.
As duas esquizo-análises
Uma das tarefas essenciais da esquizo-análise consistirá desde então em discernir esses componentes mutacionais, portadores de aspereidades semióticas, de pontos-signos desterritorializantes capazes de atravessar as estratificações do agenciamento, um pouco à maneira desses “efeitos-túneis” que descrevem os físicos.
Diverso da psicanálise, um tal modo de abordagem do inconsciente não se contentará em ligar os efeitos do “exterior” pela técnica do transfer. O analista não poderá mais refugiar-se por trás de uma pretendida neutralidade para pôr-se à escuta do outro, sem se por, portanto, jamais se comprometa pelos propósitos que se conservam no seu consultório. O processo analítico — individual ou coletivo —, pela sua própria natureza, será implicado pelo seu objeto (enquanto processo, é o estatuto do objeto e do sujeito que se encontrará assim constantemente posto em causa). Conforme seus riscos e perigos, uma pragmática analítica deverá fazer escolhas micropolíticas, optando, por exemplo, pela aceleração ou diminuição de uma mutação interna do agenciamento para facilitação ou enfraque de uma transição interagenciamento. Uma cartografia esquizo-analítica, antes de fornecer indefinidamente os mesmos complexos ou os mesmos “matemas” universais, explorará e experimentará um inconsciente em ato. Ela não se dedicará unicamente à ajustagem das conclusões diacrônicas — sintomas, neuroses, sublimações, etc. — mas, além dos estados de equilíbrio manifestos ou das catástrofes subjetivas, ela se aplicará à ordem em dia as potencialidades situacionais menos aparentes segundo os eixos sincrônicos que atravessam atualmente (ou susceptíveis de atravessar) os agenciamentos considerados. Essas duas séries analíticas, se recuperarão aliás, constantemente, cada uma retomando, por conta própria, as mesmas séries de interrogações: por que esse agenciamento antes que um outro? Por que esse fecho, esse bloqueio? Para que serve esse efeito do buraco negro? Anunciaria ele o desencadeamento de um efeito geral de inibição ou, ao contrário, uma reconversão do metabolismo do agenciamento em linhas de fuga não-arborescentes? Qual o benefício que há em romper tal equilíbrio homeostático intra-agenciamento? Existe uma ameaça grave de repressão exterior que tende a bloquear todos os sistemas interagenciamento (do tipo: "metrô-trabalho-dormir")? Existem ao contrário incentivos creditáveis de abertura rizômicas? Essas questões intra e interagenciamento não poderão ser deixadas nesse grau de generalidade. Para pegá-las por uma ponta, que não seja ela mesma uma cilada, só enviando abstrações psicológicas ou sociais, será necessário fechar mais de perto os pontos de singularidade, os pontos de contra-senso, as asperezas semiológicas que, fenomenologicamente, aparecem como as mais irredutíveis.
Em função de suas diferentes capacidades de “extração” de traços de singularidades maquínicas, poder-se-á distinguir entre vários tipos de práxis esquizo-analíticas. Conforme um agenciamento esquizo-analítico³⁰ tenha por objeto um agenciamento preexistente ou, se nos propusermos criar um de novo, poder-se-á reatar seu funcionamento aos pragmáticos gerativos ou aos pragmáticos transformacionais dos quais nós falamos anteriormente. Se adiantamos esta distinção, apesar de seu caráter um tanto artificial (pois na realidade os dois tipos de pragmáticos são indissociáveis no mesmo lugar) é unicamente para sublinhar o fato de que uma intervenção esquizo-analítica não é necessariamente “finalmente”; que ela não tem nada a fazer com as interpretações “selvagens” e que até em um sentido ela exigirá freqüentemente uma prudência muito maior que a psicanálise, com suas interpretações satíricas e seus transfers muitas vezes ingovernáveis. Não depende da esquizo-análise afrouxar ou forçar os acontecimentos. Não se perde nunca de vista que os compromissos, os recuos, os avanços, as rupturas, as revoluções substituem processos que não se trata de forma alguma de pretender controlar, ou supercodificar, mas somente assistir semioticamente e maquinicamente.
1) A esquizo-análise gerativa
O papel dos componentes de passagem será circunscrito aqui no jogo unicamente de interações fracas entre os agenciamentos com o fim de despertar, de desatar se possível, seus mecanismos alienantes, suas estratificações e suas redundâncias opressivas, seus efeitos de buraco negro e até mesmo conjurar ou adiar as ameaças de catástrofe que pesam sobre eles. Tratar-se-á realmente de explorar ao máximo os índices, as linhas de fuga suscetíveis de estimular os reacionamentos ulteriores. Nesta primeira direção, a micropolítica esquizo-analítica não conduzirá pois, necessariamente, a uma desterritorialização sistemática dos agenciamentos: ela se acomodará, ao contrário, da paralisação de reterritorialização de longa duração do tipo “regressão”, instauração do neo-arcaísmo, etc. — repondo aos próprios tempos do processo maquínico o cumprimento das desestratificações necessárias.
Os agenciamentos de enunciação esquizo-analíticas ficam sempre aqui mais ou menos alienados às formações de poder capitalistas e submetidos a seus micro-mega-maquinismos (Rede dos Equipamentos coletivos, mídia, etc.) os componentes de passagem implicados em tais processos não poderão jamais ser afetados por uma significação unívoca. Neste nível, a “interpretação” permanecerá pois, sempre relativa sob o “ponto de vista” dos agenciamentos de enunciação considerados e às matérias de opção que eles selecionam concretamente³¹. “Nenhuma palavra de ordem, somente palavras de passagem”, tal poderia ser a divisa de uma esquizo-análise cujos agenciamentos se situarão de repente fora de toda dialética de transfer, fora da interpretação freudiana e, de uma forma mais geral, de toda posição de representação. Seu objetivo será, unicamente, atualizar novos sentidos maquínicos nas situações onde tudo parecia jogado antecipamente. (Sentido a-significante naquilo em que ele se liga, para pô-lo em relevo em um ponto de singularidade.) Também, repito, seria ela levada a recusar sistematicamente toda referência constrangedora do sistema de causalidade sócio-histórica ou de estádios genéticos, enviscando o futuro. Seus programas de experimentação não terão nada a fazer com as quimeras arquetípicas ou simbólicas; sua ligação às realidades presentes contribuirá, ao contrário, para esclarecer constantemente as significações e os determinismos congelados no passado.
2) A esquizo-análise transformacional
Não se trata mais aí de simples remanejamentos internos de gerações contínuas, mas de modificações radicais dos mecanismos intrínsecos aos núcleos de agenciamento e, portanto, de criação de novos agenciamentos. Os componentes de passagem determinarão desta vez interações fortes, encargos de desterritorialização e de máquinas abstratas mutantes. Enquanto na primeira perspectiva tratava-se sobretudo de relações molares de sujeição e de desalienaça, no momento serão os vetores moleculares de dependência maquínica que estarão em jogo.
Poderia-se subdividir os modos de intervenção dos componentes de passagem em função de seu ponto de partida a partir:
1- de agenciamentos e de relações interagenciamento já constituídas;
2- ou de populações moleculares, das matérias de expressão “no estado nascente”.
Mas uma tal distinção ficaria também infrutuosa se ela não fosse previamente transportada para a micropolítica das escolhas que subtende a constituição mesma desses componentes de passagem. Pouco importa, com efeito, que essas populações moleculares e esses materiais de expressão sejam extraídos de “velhos agenciamentos” ou que sejam bem reunidos para a ocasião! (uma música inovadora pode nascer de uma música arcaica; ao contrário, uma música conformista pode resultar de procedimentos técnicos inéditos.) O que conta aqui é o trabalho de uma política molecular que conduz ao lançamento de novos núcleos maquínicos. Desde então, a entonação deverá ser colocada, não sobre a caracterização molar das “produções” de agenciamento (formalista, estruturalista, sistêmica...³²), mas sobre a análise dos procedimentos específicos de transformações próprias a cada componente de passagem. Em que elas modificariam os “usos” anteriores das populações moleculares e das matérias de expressão? Em que elas molecularizam a política do conjunto dos componentes?
Procuraremos, particularmente, ajustar os diferentes tipos de “montagem” que permitem fazer passar um componente na linha do componente de passagem³³. Três funções essenciais, a este respeito, poderiam ser distinguidas:
1- de distinção dos componentes (exemplo: os métodos de engrossamento, de “colorização” e de cruzamento semiótico em Proust, ou mesmo aqueles de aceleração, de afrouxamento, de amolecimento, de deformação das coordenadas espaço-temporais em Kafka);
2- de proliferação: um componente trabalha por sua própria conta e se destaca, conforme o caso, do agenciamento no seio do qual ele estava estratificado (exemplo: um projeto, que era no começo marginal — “olha, se eu vou refazer a dança” — se impõe em relação aos outros projetos, arrasta consigo um cacho de componentes e acaba por remanejar o conjunto das perspectivas de um indivíduo);
3- de diagramatização: um componente desencadeia um maquinismo mutacional capaz de atravessar domínios heterogêneos do ponto de vista de suas matérias de expressão (interações somáticas, psíquicas, etológicas, sociais, econômicas, artísticas, etc...).
Notamos que o conjunto desses procedimentos constitui outro tanto de modalidades de um mesmo processo de desterritorialização “controlada”. Trata-se de cada vez, liberar os quanta de possível maquínico e de agenciar a partir de pontos de singularidade dos núcleos ativos — quer sejam quer não semiótica e subjetivamente formados. É por esta “interioridade”, esse “núcleo opositor”, esta maquinização da desterritorialização que pode determinar uma tomada de consciência dos diversos níveis de realidade. O real em si não é nada. As realidades só existem através de sua metabolização a partir de tais agenciamentos. Mas a capacidade desses últimos em subverter antigas realidades e em articular, em exprimir, em semiotizar novas reposições na certeza de que elas estejam em estado de desencadear componentes atravessando as estratificações do passado; esta força de atravessar implica ela própria o fato desses componentes serem de atividade excessiva, que sejam dotados de um acréscimo de desterritorialização em relação aos componentes “resfriados”.
Um agenciamento, pois, só conseguirá transpor certos começos de realidade, pela função de componentes diagramáticos — esta função sendo entendida num sentido muito amplo, fazendo-nos sair do quadro dos sistemas de sinalização unicamente semióticos.
Podemos agora, retomar nosso problema referente às diferentes situações do início de um processo esquizo-analítico (seja a extração de componentes a partir de agenciamentos existentes, seja a criação exnihilo de novos componentes). Realmente, é em todas as etapas de um tal processo que não se pode deixar de se perguntar sobre os graus de consistência existencial e de eficiência semiótica das transformações inter-intra-agenciamento. Das mais fantasistas possíveis, às materializações mais irreversíveis, todos os intermediários são concebíveis! Todas as consistências são boas! Convém ainda apreciar sua relatividade.
No fundo esta constituição exnihilo de novos agenciamentos não contém em si nenhum mistério particular. Ela procede por passagens sucessivas de realidade, de consistência de um complexo de possíveis para um outro; a consistência conserva um duplo caráter: de um lado, ela é consistência do possível, ao nível mais abstrato e, de outro lado, consistência de agenciamento enquanto manifestação e interação de componentes heterogêneos. A encarnação maquínica não é, pois, automaticamente, sinônimo de reterritorialização. Acontece o mesmo para a "mais desterritorializada" que tornará talvez a desencadear um grau suplementar de realidade, a partir do instante em que ela estará ligada a uma constelação de pontos de singularidade. Mesmo quando ela for levada a elaborar toda uma trajetória transformacional (uma cartografia diagramática) para atingir e modificar os núcleos de agenciamento, é sempre ao nível mais imediato das matérias de expressão que a esquizo-análise apreenderá os maquinismos abstratos que atravessam as diferentes consistências do real.
Uma pragmática dos agenciamentos não pressupõe uma fenomenologia das essências ou uma fenomenologia dos existentes, mas antes uma fenomenologia maquínica levando em conta toda entidade que escapa à consciência imediata do sujeito, na medida em que ele apresenta um grau definido de consistência maquínica (consistência "puramente" teórica, consistência experimental, estética, imaginária, etc.). Ao renunciar aos estádios e aos universais, às idéias transcendentais, às estruturas, aos arquétipos, às chaves significantes e a outros "matemas" ela não parte então de nada e não se choca cegamente contra o muro do visível e do atual! Ao selecionar a sua "conveniência" os vetores condutores da realidade e de abstração, no seio de todo um leque de possível, ela constrói permanentemente seu próprio sistema de escoragem. Com ela, os maquinismos mais abstratos poderão cair "ao alcance da mão", visto que ela terá sido capaz de desterritorializar, de "maquinizar" de modo adequado, as mãos do corpo, do espírito e do socius.
A esquizo-análise em três dimensões
Nós não consideramos a esquizo-análise como uma técnica, uma ciência, baseada sobre leis e axiomas e ainda menos como um corpo de profissão que requer uma formação iniciadora! Ela só conseguirá existir nos agenciamentos particulares, na condição de que um certo tipo de processo mutacional seja já esboçado no campo social e no campo maquínico. Os pontos de ajuste relativos a uma nova prática de análise, os quais nós reagrupamos aqui, não são pois, de forma alguma propostos a título de princípios de base da esquizoanálise. Não se trata aqui de "cura-tipo" ou de qualquer coisa semelhante! Essas reflexões são o resultado de uma experiência, e elas permanecem inseparáveis de uma trajetória pessoal nos domínios sociais, políticos e culturais determinados.
Assim, eu me atrevi a considerar que toda idéia de objeto social, toda entidade intrapsíquica deveria ser substituída por uma noção muito mais englobante, porém, muito menos redutora: aquela do agenciamento. Um fato social, um fato de comportamento, um fato psíquico, antes de poder ser definido sobre o plano material, subjetivo, semiótico, econômico... deve ser aproveitado ao nível da territorialidade maquínica que lhe é própria. Ao transpor uma fórmula celebre, nós proclamaremos: "os agenciamentos não são coisas". E, no que se refere particularmente àqueles aos quais as ciências humanas e as ciências sociais se interessam, parece-nos importante lembrar, a título de barreira, que se deverá sempre aí procurar, se nos recusamos a desfigurá-los, três dimensões essenciais.
1- a primeira, relativa aos componentes de passagem, enquanto eles têm por objetivo cristalizar núcleos maquínicos e fazê-los viver "alimentando-os" com os quanta de possível, que eles extraem de suas próprias matérias de expressão;
2- a segunda, relativa às instâncias que especificam os agenciamentos como agenciamentos de enunciação (ou de semiotização), a saber, o conjunto dos meios de expressão, de representação, de comunicação, até de subjetivação ou de conscientização que lhes confere numa capacidade de leitura particular, uma "sensibilidade", com referência às relações intra-extra-agenciamento;
3- a terceira, relativa aos núcleos maquínicos que, ao mesmo tempo, destacam os agenciamentos do resto do mundo e tornam a ligá-los ao conjunto da "mecanosfera". Cada ser vivo, cada processo de enunciação, cada instância psíquica, cada formação social é necessariamente conectada (subjugada maquinicamente) a um ponto-encruzilhada entre, de uma parte sua posição particular sobre o phylum objetivo das máquinas concretas e, de outra parte, o engate de sua fórmula de existência sobre o plano de consistência das máquinas abstratas. Compete aos núcleos maquínicos reunir esses dois tipos de ligação, de tal sorte que as máquinas mais abstratas consigam encontrar o caminho de sua manifestação, e as máquinas mais materiais, aquelas de sua metabolização e, eventualmente, de sua semiotização.
Logo que tivermos nos ocupado do "vivo", do "sujeito", da consciência ou da inconsciência, do imaginário ou do simbólico, logo que se pretenda agir no sentido de uma abertura, de desalienação, de liberação, deveremos então nos preocupar em nunca perder durante o caminho, tanto o que se refere aos agenciamentos considerados, como aos agenciamentos "analisadores":
1- pontos de singularidade, das contingências irredutíveis às produções seriais, tudo o que faz com que a história real não coincida jamais com o jogo de estruturas, por exemplo, traços de aparência, ritornelos, traços de materialidade, de paisagismo, de território, escapando aos sistemas de redundância dominante;
2- uma superfície de enunciação, um corpo de ajustagem, mas um corpo sem órgão, um corpo não fechado sobre si mesmo, não totalitário, "egóico", e que nós classificaremos no registro das territorialidades maquínicas;
3- núcleos maquínicos articulando componentes heterogêneos. Sobrepondo-se os maís territorializados aos mais desterritorializados, os mais abstratos aos mais semioticamente eficientes e organizandoos entre si de modo que desenvolvam um "meio interior" e uma "política estrangeira".
Acrescentemos a isso que, entre esses três pólos, combinam-se três tipos de relações:
1- relações de sujeição (alienação molar) entre os pontos de singularidade e os núcleos maquínicos: a encarnação, a materialização, maquinismos (abstratos de diversos graus), têm por conseqüência torná-los irredutíveis aos modos de produção do tipo sistêmico (a alienação torna-se aqui sinônimo de acessório da história; o que não significa de forma alguma que se deva identificar a história com a alienação capitalista);
2- relações de sujeição molecular entre os núcleos maquínicos e as territorialidades maquínicas. A "representação" diagramática (ou a proto-subjetividade, ou o inconsciente maquínico) não divide mais os indivíduos das relações e das estruturas alienadas, estratificadas. Ela desenvolve, ao contrário, graus suplementares de liberdade no seio do phylum das máquinas concretas e não cessa de enriquecer, de fazer proliferar o plano de consistência dos possíveis abstratos;
3- E, enfim, relações de desejo, como fluxo mutante desterritorializante, como componentes de passagem, capazes de guardar à distância as duas vertentes precedentes de encarnação e de criatividade maquínica e modular as interações efetivas entre: os pontos de singularidade das matérias de expressão, os maquinismos abstratos do plano de consistência, os maquinismos concretos do phylum maquínico e as territorialidades maquínicas de expressão (ângulo diagramático).
De onde o esquema seguinte:
Os oito "princípios"
A esquizo-análise seria um novo culto da máquina? Talvez! Mas não certamente no quadro das relações sociais capitalistas! O progresso monstruoso dos maquinismos de toda natureza, em todos os domínios, e que parece agora dever conduzir a espécie humana para uma inelutável catástrofe, poderia pois, tornar-se a via real de sua liberação. Então, sempre o velho sonho marxista? Sim, até um certo ponto, pois, antes de apreender a história como sendo essencialmente carregada pelas máquinas produtivas e econômicas, penso, ao contrário, que são as máquinas, todas as máquinas que, funcionando à moda da história real ficam, por isso, constantemente abertas aos traços de singularidade e às iniciativas criadoras. Como contestar hoje que apenas uma revolução generalizada poderá, não só melhorar de maneira sensível o modo de vida sobre a terra, mas simplesmente salvar a espécie humana de sua destruição? Trata-se de afrontar tanto os imensos meios de materiais coercitivos como os meios microscópіcos de disciplinarização dos pensamentos e dos afetos de militarização das relações humanas. Mesmo que se volte para o Oeste, para o Leste ou para o Sul, a questão fica na mesma: como organizar de outro modo a sociedade. A repressão permanecerá sempre como um dado de base de toda organização social? Porém, nada disso é inelutável, outros agenciamentos sociais, outras conexões maquínicas são concebíveis! Sobre esse ponto, pouco importa se parecemos titubear sobre o marxismo: não há nada a esperar de bom de um retorno às naturezas primeiras. Nada mais como solução geral que a menor catarse em pequena escala! Nada pode ser resolvido a não ser pela colocação de agenciamentos altamente diferenciados. Somente deve ficar claro que as máquinas revolucionárias, que mudarão o curso do mundo, não poderão ser efetivadas, e só tomarão uma consistência fazendo-as efetivamente agir, por uma dupla condição:
1) Que elas tenham por objeto a destruição das relações de ex- ploração capitalista e o fim da divisão da sociedade em classes, em castas, em raças, etc.2) Que elas se estabeleçam, rompendo com todos os valores fundados sobre uma certa micropolítica do músculo, do phallus, do poder territorializado, etc...
Eis-nos de volta à questão da esquizo-análise! Não se trata, como se vê de uma nova receita psicológica ou psico-sociológica, mas de uma prática micropolítica que só tomará seu sentido com referência a um gigantesco rizoma de revoluções moleculares que proliferam a partir de uma multidão de mudanças mutantes: tornar-se mulher, tornar-se criança, tornar-se velho, tornar-se animal, planta, cosmos, tornar-se invisível... - do mesmo modo inventar "máquinas", novas sensibilidades, novas inteligências da existência, uma nova submissão.
Após isso, se eu devesse forçosamente dar como conclusão algumas recomendações de bom senso, algumas regras simples para a direção da análise do inconsciente maquínico, eu proporia os aforismos seguintes que, aliás, poderiam ser aplicados a todos os outros campos, a começar pelo da "grande política":
1- "Não impedir". Em outras palavras, não acrescentar ou retirar. Ficar, justamente, na adjacência da mudança em curso e extinguir-se tão logo possível (não se trata aqui pois, de curas que se arrastam durante anos, até dezenas de anos como é a moda atual para a psicanálise!).
2. -"Quando acontece alguma coisa, isso prova que acontece alguma coisa". Tautologia fundamental para marcar aí, igualmente, uma diferença essencial com a psicanálise cujo princípio de base quer que: "quando não acontece nada, isso prova que acontece, na realidade, alguma coisa no inconsciente"; princípio que serve para o psicanalista justificar sua política do silêncio e das esperas indefinidas. Na verdade, é pouco freqüente que aconteça verdadeiramente alguma coisa nos agenciamentos do desejo! Convém, também, guardar todo seu relevo para tais acontecimentos e toda sua vitalidade para os componentes de passagem que são a manifestação desses acontecimentos. Os psicanalistas queriam que nós acreditássemos que eles estão em relação constante com o inconsciente, que dispõem de uma ligação privilegiada que os reúne a ele, uma espécie de telefone vermelho, como o de CARTER e de BREJNEV! O despertar do inconsciente sabe se fazer compreender por ele próprio. O desejo inconsciente, os agenciamentos que não se exprimem pelos sistemas dominantes de semiotização, manifesta-se por outros meios que não enganam. Aqui não se precisa de porta-voz, de intérpretes. Que mistificação é essa de pretender que o inconsciente trabalhe em segredo, que não se possa dispensar um certo tipo de detetive para decifrar suas mensagens e, sobretudo, afirmar que ele está sempre vivo, latente, repelido, quando na verdade ele estaria visivelmente entorpecido, esgotado, morto, е que não haveria mais outro recurso a não ser o de reconstruí-lo, algumas vezes partindo quase do zero? Que alívio, um pouco fraco, como o de encontrar alguém que lhe dê crédito, contra toda aparência, de uma riqueza inconsciente, inesgotável, enquanto tudo ao seu redor -a sociedade, a família, sua própria resignação - parece ter conspirado para exaurí-lo de todo desejo, de toda esperança de mudar sua vida! Um tal serviço não tem preço e compreende-se por que os psicanalistas cobram tão caro!
3. - A melhor posição para se ouvir o inconsciente não consiste necessariamente em ficar sentado atrás de um divã.
4. "O inconsciente compromete aqueles que dele se aproximam.'' Sabemos que "acontece alguma coisa", quando o agenciamento esquizo-analítico atualiza uma "matéria de opção"; torna-se então impossível ficar neutro, pois esta matéria de opção arrasta, no seu sulco, todos aqueles que encontra.
5. "As coisas importantes não aconteсет nunca onde nós as esperamos". Outra formulação do mesmo princípio: "A porta de entrada não coincide com a porta de saída". Ou ainda: ''As matérias dos componentes incitando uma mudança não são geralmente da mesma natureza que aquelas dos componentes que efetuam essa mudança". (Exemplo: a palavra se converterá em somático, ou somático em econômico, ou em ecológico, enquanto que o ecológico se converterá em palavra ou em acontecimentos sócio-históricos, etc., etc.) A riqueza de um processo esquizo-analítico medir-se-á pela variedade e pelo grau de heterogeneidade dessas espécies de transferir rizômicos de maneira que nenhuma espécie de semiologia significante, de hermenêutica universal ou de programação política pretenderá traduzílos, pô-los em equivalência, os teleguiar para daí, finalmente, extrair um elemento comum facilmente explorável pelos sistemas capitalistas. Um significante não representa decididamente a subjetividade esquizo-analítica para um outro significante! Como os componentes não conseguem organizar seus próprios núcleos maquínicos e seus próprios agenciamentos de enunciação, rebelam-se diante da pretensão dos significantes dominantes para interpretá-los. E, em seguida, são eles que fagocitam o componente significante. (O que, é preciso repetir, não é de maneira alguma sinônimo de um primado sistemático dos componentes não-verbais "diante do tempo das máquinas!")
6. - Visto que na passagem tratou-se de transfer, penso que estaríamos bem advertidos para distinguir em todas circunstâncias:
-os transfers por ressonância subjetiva, por identificação pessoal, pelo eco do buraco negro;
- transfers maquínicos (máquinas-transfers) que procedem aquém do significante e das pessoas globais, por interações diagramáticas a-significantes, e que produzem novos agenciamentos antes de representar e transmitir indefinidamente antigas estratificações.
7. - "Nunca nada é adquirido". Nenhum estádio, nenhum complexo nunca é transposto, nunca é ultrapassado. Tudo permanece sempre plano, disponível a todos os reempregos mas também a todos as derrocadas. Um buraco negro pode ocultar um outro! Nenhum objeto pode ser afetado por uma identidade fixa; nenhuma situação é garantida. Tudo é assunto de consistência, de agenciamento e de reagenciamento. A publicação de uma consistência simbólica garantida cem por cento ("como você venceu seu complexo de castração?") é uma operação desonesta e perigosa. Sobretudo da parte das pessoas que pretendem tê-lo adquirido, eles próprios, no decorrer de uma análise tida como didática!
8. - Finalmente, mas na realidade, o primeiro princípio: “toda idéia de princípio deve ser mantida como suspeita”. A elaboração teórica é tanto mais necessária e deverá ser tanto mais audaciosa quanto o for o agenciamento esquizo-analítico que admitiu a medida de seu caráter como essencialmente precária.
Link para PDF integral do livro.



Nenhum comentário:
Postar um comentário